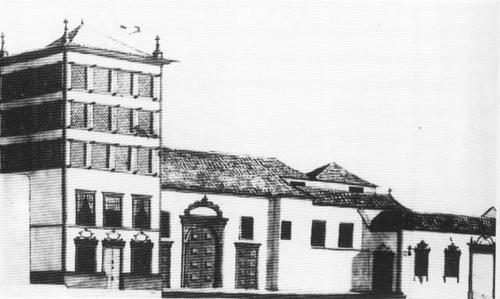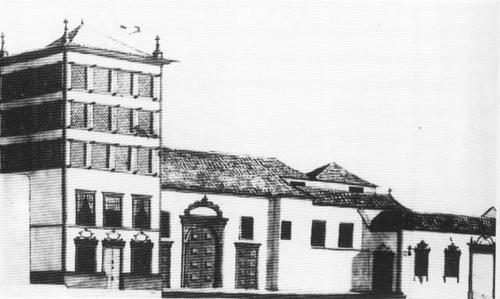
|
DIAS DE MONTEZUMA
EMILIO FRAIA
Sexta-feira
É dezembro, quero começar esse texto com alguma ideia sobre inícios de viagem. Enrique Vila-Matas escreveu a respeito: algo como toda viagem ter começo e fim bem definidos, uma estrutura ideal para narrar. Mas estou longe de casa, sem meus livros, não consigo lembrar onde foi que li isso.
Do aeroporto, mando um e-mail para o catalão, contando que acabei de chegar no México, que estou escrevendo sobre o assunto etc. Duas horas depois, vem a resposta, uma mensagem longa e loucona, com o seguinte trecho: “Em geral, me excitam mais os preparativos do que a viagem em si. Talvez porque neles a imaginação seja muito poderosa, e tudo é possível antes de se colocar em movimento. Os preparativos se parecem àquele momento extraordinário de liberdade que vivenciamos ao começar a escrever um texto, e não ignoramos que assim que colocamos o lápis no papel seremos prisioneiros do território verbal e moral contido na primeira linha. De todo modo, também gosto de viajar; viajar para despencar do sonho”.
Sábado
Para reparar erros de férias passadas (em que fui soterrado nas minas de carvão dos livros na bagagem), trouxe comigo um único volume: México, do Erico Verissimo. Estou convencido de que nessas ocasiões precisamos de um livro apenas; para que anos depois a memória da viagem se mescle ao livro, ou numa imagem mais literária e semicafona: como se duas pessoas estivessem conversando e, no chão, suas sombras se alongassem uma sobre a outra — a intersecção das sombras seria a sensação misteriosa livro/viagem.
Lendo México, penso que Veríssimo é uma espécie de Tintim de cabelo penteado e pulôver nos ombros. Na primavera de 1955, esgotado pela rotina no departamento de assuntos culturais da Organização dos Estados Americanos, em Washington, ele sai de férias e vai explorar o país das tortillas e do único goleiro possível: Jorge Campos. No centro de Guadalajara, vejo uma criança de óculos e tampão no olho esquerdo. Um indiozinho pequeno e bochechudo, de nariz escorrendo. Penso que daria um bom livro infantil, uma história cujo protagonista fosse o menininho com o curativo, normalmente usado para exercitar o olho preguiçoso. Imagino a curiosidade das outras crianças, bolando planos para descobrir o que existe atrás da gaze, o porquê daquilo estar ali, deve esconder algo aterrador.
Domingo
Vou com duas amigas editoras chilenas, Catalina e Paulina, a um bar chamado I Latina, recomendado pelo escritor Juan Pablo Villalobos. Segundo Villalobos, trata-se de seu lugar favorito no mundo. É, de fato, excelente local para se estar no universo. Passo a noite me alimentando de michelada com clamato — cerveja, limão, sal, gelo, pimenta & polpa de tomate enriquecida com molho de marisco. Mais tarde, no hotel, vejo que meu pai me escreveu. Diz que acompanhou no El País a cobertura dos debates da Feira do Livro. “Li reportagens, vi fotos (parabéns). A preocupação dominante é sobre a divulgação da literatura, leitores novos, o papel da internet, economia, edição. Fiquei me perguntando quando é que vocês vão começar a falar de literatura. Temas, estilo, narrador. Também queria saber o porquê de nunca mais ter ouvido música mexicana, que sempre gostei quando era jovem. Na próxima oportunidade, se estiverem falando de economia e mercado, levante essa questão. Sucesso. Pai.”
Segunda-feira
Participo de um encontro com alunos do Instituto Esperanza. Jovens entre quinze e dezoito anos. É um colégio de freiras. Ao fim da conversa, as freiras Olga e Clara me levam a um povoado cujo nome é uma homenagem ao Deus Asteca da Onomatopeia: Tlaqueplac. Passo a tarde com elas. Visitamos a igreja local. Tomamos suco de frutas numa panelinha de barro. Clara passou sete anos numa missão em Angola. Olga foi missionária no Peru. Conto a elas minha ideia de ir ao norte, pegar El Chepe, o trem que corta as montanhas. Clara diz que lá faz frio e que devo levar agasalho.
Na despedida, me dão uma tequila de presente. Tiramos fotos juntos. Clara diz que vai me adicionar no Facebook, o que de fato faz, poucas horas depois — no chat, me manda o emoticon de um gato gordo e feliz.
Terça-feira
À noite, num lugar chamado La Favorita, festa da editora Almadía. Conheço a mexicana Valeria Luiselli. Em Los Ingrávidos, Valeria escreve sobre dormir em camas alheias: “Eu não gostava de dormir sozinha no meu apartamento. Morava em um sétimo andar. Certa noite, enquanto fumávamos um cigarro fora do edifício, disse ao porteiro: não sei dormir aqui. O que você tem que fazer — ele disse — é sair daqui o máximo que puder. Voltar só para comer e tomar banho, nunca para dormir, porque, à medida que a pessoa vai passando noites em lugares diferentes — pensões, hotéis, quartos emprestados, camas compartilhadas —, conhece mais sua intimidade”. No fundo, esta é a narrativa secreta de toda viagem: passamos dias e dias dormindo em quartos e camas onde nunca estivemos antes.
Quarta-feira
Ônibus para a Cidade do México. Sete horas de viagem.
Quinta-feira
Que lugar dramático e maravilhoso, a Cidade do México. É uma metrópole espalhada. Tudo é longe. Há uma avenida, Insurgentes, que atravessa a capital, de norte a sul. Ando pelo centro. Vou ao Templo Maior. As construções ao redor foram erguidas sobre o cadáver da Tenochtitlán asteca, sobre um leito de areia, lava e rocha porosa. A impressão é de que tudo afunda. As fachadas dos prédios parecem estar fendidas, torres inclinadas. Mesmo com sol (o céu não tem uma nuvem), há um ar escuro. Na praça, o zócalo, fica a igreja que os conquistadores espanhóis ergueram com as mesmas pedras do templo asteca. O Palácio Nacional sobe no lugar onde foi a residência do imperador Montezuma. Vou até a pulqueria La Risa. É um lugar minúsculo, frequentado por jovens emos mexicanos. O pulque é a bebida clássica mexicana, muito antes do mezcal ou da tequila. Trata-se de uma água viscosa, extraída do maguey, um tipo de cacto. O líquido nefasto (nos sabores maçã, maracujá, aveia e mamão) é servido em canecas gigantes.
Sexta-feira
Passo a madrugada com febre, vomitando (a maldição de Montezuma). Havia combinado de ir ao povoado de Tepoztlán com a adorável tradutora Paula Abramo, seu marido Oscar e uma poeta israelense. Penso em escrever a eles, dizer que desisti do passeio.
Mas penso que se conseguir dormir, posso estar melhor pela manhã. Não prego os olhos. Às 10h30, ouço a campainha. É Paula. Estou um lixo humano. Mesmo assim, resolvo ir. Tepoztlán significa “lugar do cobre”, na língua asteca. No entanto, não há minas de cobre. Paula me diz que há uma explicação poética: a cor de cobre das montanhas, no fim da tarde.
Oscar e a poeta sobem a trilha até a pirâmide, no alto da montanha. Paula e eu ficamos na cidadezinha. Caminhamos pela feira de comida. Visitamos o convento. Durmo na biblioteca do convento.
Sábado
Consigo me recuperar a tempo da conversa na Universidade do México. Lá, conheço um grupo de tradutores de literatura brasileira. Consuelo, uma das tradutoras, acaba de ler Barba ensopada de sangue e está muito empolgada. A cidade universitária mexicana lembra a USP. O Estádio Olímpico, dos Pumas, é um dos mais bonitos que já vi. A biblioteca é um prédio de treze andares coberto por murais coloridos com motivos astecas, cenas que representam bons e maus aspectos da Conquista.
No fim da tarde, tomo o caminho de volta. Estou hospedado na casa de uma amiga mexicana, Claudia. Ela mora com Mario, um barbudo dono de uma loja que vende, conserta e projeta bicicletas. Também residem no lugar três gatos, Tito, Yoshi e José Guadalupe Flores. À noite, vamos à luta-livre. Confronto entre El Místico y Valiente e Psyco Ripper. Há luta entre anões também (um deles, vestido de macaco, com uma roupa azul e peluda). Perto da uma da manhã, reencontro as chilenas, Catalina e Paulina, que acabam de chegar de Guadalajara. Vamos a um bar em La Condesa chamado Salinger. Bebemos mojito e ficamos tentando lembrar das últimas frases do Apanhador, quando Holden diz que mal acaba de contar e começa a sentir uma espécie de saudade de todo mundo que entrou na história. Nos despedimos. Pego um táxi. O taxista, de uns oitenta anos, conta que foi mariachi. Abaixa o som do rádio e canta uma música.
Domingo
Acordo, nova mensagem de Vila-Matas:
“Emilio, fiquei muito impressionado quando li uma microbiografia do poeta do século dezenove Antero de Quental, incluída em Dama de Porto Pim, de Antonio Tabucchi. Nela se contava que depois de uma longa temporada em Lisboa, o poeta dos Açores, o mais trágico de todos, regressa a suas ilhas cheio de sonhos — sonhos que caem por terra poucos meses depois.
Em sua pátria, desesperado com a solidão, descobre a existência do nada e se mata em Ponta Delgada, com um tiro, em um banco verde em frente ao mar, em pleno meio-dia, sob o muro branco do Convento da Esperança, onde existe uma âncora azul desenhada na parede caiada.
Um meio-dia, em minha primeira viagem para os Açores, fui ao tal convento, para me sentar no banco verde em que Antero se matou. Encontrei tudo exatamente igual, inclusive seguia ali a âncora azul desenhada na parede branca. Todavia, de todos os bancos da área, o de Antero era o único que estava ocupado. Era quase propriedade de uns mendigos que não arredavam pé. Tive que esperar duas horas até que fossem embora. Então, me sentei no banco. Havia o mesmo mar daquele distante meio-dia. A mesma praça, as mesmas árvores, o mesmo brilho na água — nada muda, tudo segue igual, eu pensei. Esse é o tipo de viagem que gosto de fazer.
Abraço, espero vê-lo em São Paulo, na próxima viagem. Enrique.”
__________________________________________________________________
Emilio Fraia nasceu em São Paulo, em 1982, é editor, jornalista e escritor. É autor da graphic novel Campo em branco (Quadrinhos na Cia., 2013, em parceria com DW Ribatski) e do romance O verão do Chibo (Objetiva/Alfaguara, 2008, com Vanessa Barbara). Foi um dos vinte melhores jovens escritores brasileiros eleitos pela revista britânica Granta, além de repórter das revistas Trip e piauí e editor de ficção da editora Cosac Naify. |